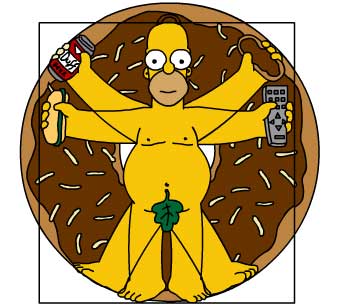POR ROGÉRIO HENRIQUE CASTRO ROCHA (M.:M.:)
A ALEGORIA DA CAVERNA DE PLATÃO E O RITO DE INICIAÇÃO
MAÇÔNICA NO GRAU DE APRENDIZ: UM ESTUDO COMPARATIVO
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objetivo geral analisar
os
fundamentos simbólicos e filosóficos presentes no rito de iniciação do aprendiz maçônico,
abordando, reflexivamente, aspectos doutrinários envolvendo a figura do iniciado em seus primeiros
passos dentro da vivência efetiva da Instituição Maçônica, especialmente no que diz respeito aos regramentos dispostos no R.: E.: A.: A.:
Propõe-se ainda a
empreender breve análise comparativa entre
a Alegoria da Caverna de Platão, constante de sua obra “A República” (Livro VII) e a cerimônia de entrada do neófito no 1.º grau da maçonaria.
2 O neófito e
sua entrada no
mundo maçônico
Inicialmente, é importante ter em vista o contexto encontrado no
início da jornada do aprendiz na
caminhada
progressiva
e
ascensional de
nossa Emérita Ordem.
O aprendiz
maçom – é importante frisar – até bem pouco tempo,
antes de travar o seu primeiro contato com a Arte Real, era um completo profano. Ainda assim, mesmo imerso nos afazeres da vida mundana, tal
indivíduo trazia consigo,
dentre
outras tantas virtudes em potencial,
duas sem as quais não poderia aspirar sequer à condição de candidato: ser livre e
de bons costumes.
É por ser
portador destes imprescindíveis
requisitos que candidata-se, preenche sua proposta de admissão, passa pelo crivo do exame de seus futuros pares (sobretudo em face dos requisitos legais e morais que lhes são
exigidos), submete-se ao ritual iniciático da Cerimônia de Sagração ou Consagração (onde é investido na dignidade do grau) e, após passar por uma
série de provas em cerimonial, realiza, por fim, as ‘três viagens’
de
purificação
simbólica para passar da condição de homem profano à de homem maçom.
Como se sabe, porém, o aprendiz é um neófito, isto é, um iniciante, inexperiente ainda, seja num ofício, seja numa arte ou num saber. É alguém que
ignora
os conhecimentos mais
profundos, os detalhes mais complexos, os ditames mais
elevados a respeito de determinada técnica, assunto ou saber.
Para Jaime Pusch, citado pelo Irm.: Paulo Thomson de Lacerda, o
Grau de Apr.: M.: é
a fase purgativa e ativa da Iniciação. Neste Grau o M.: se dedica ao
aprendizado dos mistérios simbólicos básicos, leis, usos, costumes e história geral da Maç.:.
Trabalha na P.: B.:. Deve evoluir de homem
bruto, amorfo,
profano, o homem
polido, burilado, M.:. (A Trolha, Londrina, nº 308, p. 34, jun.
2012)
É, pois,
este
homem – recém-chegado das lides profanas e recém-nascido maçom, agora
inserido no ambiente cerimonioso e solene de uma Loja
ou
Oficina – a quem se denomina aprendiz.
Mas, afinal, em termos simbólicos, o que
representa
a Iniciação
Maçônica? E qual
relação existe entre esta e a alegoria do filósofo grego?
3 A alegoria da caverna em Platão: a transição humana da ignorância
ao saber
Analogicamente, o
melhor exemplo
para se compreender a trajetória maçônica
do aprendiz em
relação
ao simbolismo
do ritual de iniciação
encontra-se na famosa alegoria da caverna, descrita pelo filósofo grego Platão (séc.
V a.C.).
Trata-se de texto que se desenrola em forma de diálogo filosófico e
que possui extraordinária riqueza hermenêutica, dele se podendo
extrair várias perspectivas de leitura ou sentidos (pedagógico, ético, epistemológico, político,
metafísico, etc).
Nele Platão expõe, de
forma sistemática, o que seria para si o
modelo de estado ideal, bem assim toda a estrutura societária, moral e pedagógica que ajudariam a formar o rei-filósofo (governante da República) e os demais membros de cada classe social.
A República, portanto, encontra-se
fundada na crença permanente em que ninguém merece progredir dentro de
sua
sociedade senão
como
resultado de seus talentos, habilidades e, mais
importante de tudo, seu caráter. E para
isso, o processo de educação é basilar.
Presente no livro VII da obra “A República”, a alegoria da caverna
nos
descreve a cena em que homens, nascidos e acorrentados no interior de
uma
caverna, nela permanecem sem poder mudar de posição
e, portanto, sendo forçados a olhar somente para o fundo da caverna. Nessa parede veem, projetadas
pelo
sol que
adentra uma fresta de entrada, por detrás de um muro pequeno, as sombras e silhuetas de seres e objetos
que transitam no mundo exterior.
Na visão dos
prisioneiros, acostumados
à cegueira do ambiente cavernoso, tudo o que conseguiam admirar nas sombras lançadas sobre a parede à sua
frente constituía-se em realidade (o mundo verdadeiro). Do lado de fora, onde transitam pessoas carregando objetos de diversos tipos, o sol
brilha com intensidade.
Atrás dos cativos, no interior
das
trevas e abaixo do sol que invade a entrada superior da
caverna, uma fogueira que arde, também projetando
sombras ao interior do recinto.
Do mundo externo, ao qual ignoram por completo, também lhes vêm
os ecos de vozes, ruídos
e sons de toda ordem.
Familiarizados com a escuridão daquele
mundo interior, acreditam
piamente que tudo o que veem, ouvem e sentem trata-se da
mais fiel e única
realidade.
Supondo, entretanto,
que um dos cativos quebrasse seus grilhões e
enfim se voltasse para trás, transpondo o muro e alcançando a saída para o
mundo exterior, qual não seria sua surpresa ao deparar-se com o forte clarão da luz do sol, a qual
ofuscaria sua visão, tendo de acostumar-se primeiro, para só depois,
e gradualmente, divisar uma nova realidade que se descortinava a
sua
frente.
Tal homem, recém-saído da caverna, alcançaria a luz e
descobriria que o que pensava ser real não o era. A realidade verdadeira estava no mundo
externo, clareado pela fulgurante luz solar.
Por fim, entenderia o
ex-cativo ter vivido em um
mundo de ilusões, um mundo de aparências, mero
simulacro do real. E que doravante, com a ação que tomara, afastar-se-ia da ignorância e do erro para trilhar as sendas
da verdade, do
saber e
do conhecimento inteligível.
Como se pode depreender, a alegoria platônica, em seus múltiplos
contextos interpretativos, opera constantemente com a presença
de
dualismos
ou dicotomias (sabedoria e ignorância, aparência e realidade, trevas e luz,
mundo superior e mundo inferior, etc.). Elementos estes que, como veremos a seguir, também se refletem nas práticas
e simbolismos da iniciação maçônica.
4 Das sombras à luz:
o itinerário do aprendiz na iniciação
maçônica
A Iniciação Maçônica representa, em breves palavras, a Morte e a Ressurreição. A
morte das trevas, do obscurantismo em que se encontrava o neófito, e sua renascença para a Luz da Verdade.
A luz, tanto no mito platônico quanto na filosofia e simbolismo maçônicos, adquire vários significados, dentre eles o
de esclarecimento,
evolução, conhecimento, ingresso
no universo da
interioridade da busca
intelectual.
Não se pode esquecer, num paralelo
com a caverna,
que um dos
prisioneiros ascende à luz, ou seja, sai da gruta, desvencilhando-se de suas cadeias e curando-se de sua ignorância.
Ao “receber a luz”, quando lhe são desvendados
os
olhos, o iniciado
tem-lhe revelados os
mistérios do primeiro passo dado na seara do misticismo.
Como
bem nos lembra Rizzardo da Camino (Breviário maçônico. 6.ed. Madras: São Paulo, 2012, p.
326), “o
maçom e todos
nós, estamos na escuridão e
ansiamos pela Luz”.
Então, a partir dessa análise, podemos, desde já, perceber
os estreitos liames que enredam a trama tanto do iniciado maçônico – em seu
trajeto de passagem das celas, das masmorras, da prisão simbólica, da qual emerge ao final de sua sagração – quanto a do cativo da caverna platônica.
Assim como o prisioneiro da caverna, o candidato a maçom adentra o templo sem nada ver
nem
conhecer. Ingressa às escuras, olhos vendados,
não
conhece ninguém, não sabe o que lhe aguarda,
para onde será levado, o que irá acontecer daquele
momento em diante. Simbolicamente, entra-se em
outro mundo. Nos damos conta do quanto era vã a nossa existência, o quão pouco sabíamos das
coisas, dos outros e de nós mesmos.
Por horas a fio o iniciado permanece envolto em mistérios, sozinho,
consigo mesmo e com seus pensamentos. A angústia e o temor lhe invadem.
Dúvidas e inquietações lhe passam à mente. Impressões e sensações
a todo instante lhe assombram. Sons
próximos e ruídos distantes, vozes, um arrastar
de pés ou cadeiras, conversas, palavras ditas por pessoas que não sabe
ao certo quem são e com que propósito o cercam.
Nesse instante, uma jornada de interiorização se inicia. O candidato, ainda ‘imerso nas sombras’, à
espera do momento do início da
cerimônia, volta-se
para dentro de si mesmo, para sua caverna, nas ‘entranhas
da
terra’ onde ora habita, ‘prisioneiro’ de sua própria ignorância, ‘acorrentado’ aos seus vícios e paixões mundanas. Assim como o cativo da obra platônica, vive a ilusão de que a realidade é tal como se lhe parece.
Na Câmara de Reflexões, por breve período, a escuridão do ver lhe
é amenizada.
Em seu lugar surge, por sua vez, a gravidade das questões que lhes são lançadas, novamente a confrontá-lo com seus próprios pensamentos,
a inquirir seus princípios, suas ideias, seus medos, sua existência e sua
fortaleza espiritual.
Como nos
ensina a própria letra
do
rito do 1º grau, “o estado de cegueira, em que vos
achais,
é o símbolo do mortal que não conhece a estrada da Luz, que ides principiar a trilhar.” (Grande Oriente do Brasil.
Ritual do 1º
Grau: rito escocês
antigo e aceito. São Paulo, 2009, p. 106).
Ademais, a
analogia que aqui se tenta demonstrar
também é notada,
ainda no rito de iniciação, quando se faz menção à ligação existente entre o
simbolismo da 1ª prova, a da Terra, e a caverna onde estivera recolhido
o candidato, ao fazer
suas disposições. (Idem, Ibidem, p. 108)
Ao final
dessa jornada, consolidando a ideia aqui apresentada de
paralelismo entre elementos do mito da caverna em relação a determinadas
passagens dentro do ritual de iniciação maçônica, tem-se o momento áureo da
cerimônia de sagração: o “Fiat Lux”
(faça-se a luz ou que se lhe dê a luz).
A passagem das trevas à luz é uma alusão ao difícil trabalho de
construção e reconstrução que se fará
da
pedra bruta à pedra polida.
É o encerramento da travessia, o nascimento do novo homem.
No mito
platônico corresponderia ao instante em que se passa do
mundo sensível ao supra-sensível. Ou
seja, trata-se da caminhada ascendente entre o interior escuro da gruta e o seu exterior iluminado. Ou
como
bem assevera
o filósofo grego, em importante passagem da obra em
comento, que teríamos, em verdade, “a reorientação de uma mente de uma
espécie
de
crepúsculo para
a verdadeira luz
do
dia – e esta orientação é uma ascensão da realidade, ou em outras palavras – verdadeira filosofia.” (PLATÃO.
A República, 1997).
Representaria, portanto, a passagem da visão da sombra à visão do sol.
Do mundo cavernoso dos sentidos e falsas percepções à vida na pura luz, na dimensão
do
espírito;
como
que
um
libertar-se de
grilhões. Verdadeira conversão que se contempla e se completa
na verdade racional que se
manifesta à realidade.
Após tomar
consciência de suas falsas noções da realidade, o cativo/neófito nunca mais voltará
a conduzir
sua
vida do mesmo
modo.
Ele foi iluminado. Como sustenta
o Ir.: Stephen
Michalak, essa é a base de toda
iniciação. Mais ainda, pois consiste num processo que não acontece, como
pode por vezes parecer, apenas e tão-só em uma noite. Tal processo perdura por
todo o restante dos nossos dias.
A profunda riqueza do mito nos deixa entrever, pois, sem sombra de
dúvidas, elementos da caminhada maçônica.
Em
sua vertente especulativa,
vê-se a exigência de
uma busca pelo conhecimento e o combate incessante a toda forma de obscurantismo. Em sua vertente operativa, a necessidade de
que o saber
seja aplicado na transformação do homem e do mundo.
Conclusão
Pretendeu-se, com o
presente estudo, traçar
uma breve análise
comparativa entre a
filosofia e o simbolismo presentes no mito ou alegoria da
caverna, do filósofo grego Platão, e o ritual iniciático do grau de aprendiz
maçom do R.: E.:
A.: A.:. Para tanto, teve-se por referencial teórico nessa pesquisa a doutrina de grandes
expoentes da literatura e
filosofia
maçônicas
bem
como a exegese da filosofia platônica, a partir da interpretação dos significados encontrados no mito platônico, apresentado
mais
especificamente
no
livro VII da sua obra “A República”.
Do que se pôde concluir, após
a exposição
dos argumentos que serviram de base à referida análise, dentre
outras coisas, vê-se que é grande a
influência da filosofia platônica nos círculos especulativos e operativos da
Maçonaria.
De igual modo,
pode-se também afirmar que tal influência
precede
mesmo, na história, a fundação da ordem em sua configuração mais recente,
como produto da
modernidade franco-maçônica, visto que remonta à época
da longínqua antiguidade,
bem
como ao período medieval, onde o pensamento de
Platão foi novamente estudado.
Outrossim, infere-se
da
leitura interpretativa do texto filosófico de “A
República”, para
além
da mera
alusão à passagem aqui
citada
de sua conhecida alegoria, presente
no Livro VII, inúmeras
outras referências
(simbólicas, práticas e epistemológicas), perfeitamente alinhadas aos preceitos
ainda hoje constantes dos
ritos e ofícios da Maçonaria.
Logo, não nos
parece equívoco afirmar a existência de uma conexão
lógica, ou seja, de uma correlação de sentidos entre a filosofia
platônica e os ritos, simbolismos e a filosofia maçônicas.
Ambas as concepções mostram-se voltadas, por seu fim, ao desenvolvimento de um autogoverno humano, capaz
de permiti-lo, através da reflexão
filosófica e da
busca de si mesmo, libertar-se
das
amarras da ignorância para, enfim,
galgar novas escalas no
seu aprimoramento pessoal, moral e social, transformando-se e ajudando a transformar para melhor a realidade que o cerca.
Referências
ABRÃO, Bernardete Siqueira. História da filosofia. São Paulo: Nova Cultural,
2004.
AS RAÍZES PLATÓNICAS DO PENSAMENTO MAÇÓNICO. Disponível em:
CAMINO, Rizzardo da.
Breviário Maçônico.
6. ed. São Paulo: Madras, 2012.
CASTELANI, José.
Dicionário de termos maçônicos.
3. Ed.
Londrina: A
Trolha, 2007.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 15.
ed.
reform. e ampl.
São
Paulo: Saraiva, 2002.
D’ELIA JUNIOR,
Raymundo.
Maçonaria: 100
instruções
de aprendiz. São
Paulo: Madras, 2012.
GRANDE ORIENTE DO BRASIL. Ritual do 1º grau: rito escocês antigo e
aceito. São Paulo, 2009, p. 106.
LACERDA, Paulo E. Thomson de. Ser aprendiz. A Trolha, Londrina, n.º 308, p.
34-35, jun. 2012.
LIMA, Walter Celso de. Ensaios sobre filosofia e cultura maçônica. São
Paulo: Madras, 2012.
07/12/2012.
PLATÃO. A República. trad. Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural,
1997. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã antiga.
Trad. Ivo Stormiolo. São Paulo: Paulus, 2003.

 orcid.org/0000-0002-3614-6314
orcid.org/0000-0002-3614-6314