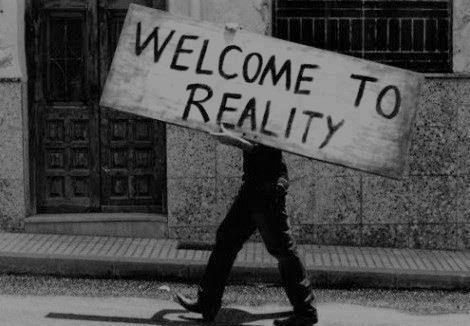Subsiste por detrás das competições um conjunto de modelos de relacionamento com o mundo.


por Duanne Ribeiro/ introdução Eric Campi
No que concerne à ética — aos modos pelos
quais decidimos viver — a que em nós apelam as Olimpíadas, quais
símbolos contêm que ressoam aqueles que nos preenchem? Tanto na Grécia
clássica quanto nos diferentes momentos da versão moderna dos jogos,
modelos tais que funcionam como interfaces entre distintos âmbitos
sociais. Se a guerra, a política e a religião, entre os gregos
clássicos, se espelhavam e eram espelhadas nas atividades atléticas, o
que espelham as Olimpíadas atuais e o que se espelha nelas? Percorrendo
as variações do símbolo atleta ao longo da história, das
maneiras como o atleta é reconhecido, podemos especular sobre o dado
essencial que funda os esportes e o nosso cotidiano.
Em “The Heroic Athlete in Ancient Greece”,
do professor de história da Universidade do Sul de Utah, David J. Lunt,
lemos que, na Grécia dos cinco séculos antes da era comum, ao atleta se
abria como potencial a divindade. Pela excelência no esporte (no que
chamaríamos de esporte), podia o sujeito se aproximar dos deuses,
fazer-se um semideus e um herói. Não se tratava dos únicos que
alcançavam a “heroicização”, mas “a vitória atlética provia uma avenida
para o status heroico”. Tendo esse objetivo em vista, não só, por óbvio,
desenvolviam sua habilidade, como procuraram agregar à sua imagem
referências míticas, inclusive reproduzindo, em pessoa, feitos lendários
(de Polydamas de Skotoussa, diz-se que, para imitar Hércules, subiu ao
Monte Olimpo e matou um leão com as mãos nuas). O culto aos
atletas-heróis se equiparava ao dos deuses.
A vitória nas competições, nos conta Lunt, atribuía ao atleta kudos,
termo que denotava um dom divino— “com frequência traduzida por
‘louvor’ ou ‘renome’”, para os antigos a palavra indicava “um poder
especial outorgado por um deus que faz o herói invencível”. Ao caminho
para chegar à imortalidade heroica, faltavam ainda dois componentes: kleos, “glória e fama”, e timé,
“o culto em sua honra”. Talvez possamos pensar que esses momentos são
os avançados investimentos e expansão do capital simbólico conquistado
nos torneios — kleos se constitui do que se fala do atleta, do que cantam sobre ele os poetas, por exemplo; timé,
nesse caso, quiçá se diga o ponto em que esse processo todo se
institucionaliza. A eternidade ao alcance do esforço e do discurso.
Tal compreensão de que podemos, por atos e
palavras, tornarmo-nos ou provarmo-nos dignos, companheiros dos deuses,
nos remete à Friedrich Nietzsche. A Genealogia da Moral descreve os deuses gregos, a religião grega, como “reflexos de homens nobres e senhores de si, nos quais o animal
no homem se sentia divinizado e não se dilacerava, não se enraivecia
consigo mesmo!”. Nietzsche parece crer que essa civilização, em sua
teodiceia, dispunha diante de si a potência de vida que havia neles
próprios em confronto com o mundo. Tudo se passa como se nós fôssemos
compostos de divino — e, avançando a partir da interpretação
nietzschiana, como se o sucesso atlético fosse a demonstração dessa
composição identitária, dessa filiação.
Esse contínuo homem-deus não estava em
questão na refundação dos jogos em 1896 pelo barão Pierre de Coubertin,
embora uma tendência aristocrática persistisse nela. Segundo o doutor em
educação Alberto Reinaldo Reppold Filho, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, o barão “combinou a sua visão da cultura helênica com o ethos do Cristianismo Muscular presente nas escolas públicas inglesas no auge do Liberalismo” (de “Desafios do olimpismo: contribuições da filosofia moral”)
— esse “cristianismo muscular”, pelo que pudemos aferir, advogava um
corpo perfeito e forte, em aliança com a fé. Coubertin cunhou o que
seria o lema dos Jogos Olímpicos:
“O importante na vida não é o triunfo, mas a
luta; o essencial não é ter ganho, mas ter lutado bem”, que possui
outras formulações. Esse lema sobrepõe algumas camadas de ideias.
Professor de estudos clássicos da
Universidade da Flórida, David C. Young discute a controvérsia sobre a
autoria dessa frase, no artigo “On the Source of the Olympic Credo”.
Coubertin a atribuía ao pastor Ethelbert Talbot, que por sua vez se
referia ao apóstolo Paulo. Young aponta que o recriador dos jogos já
havia dito algo idêntico em uma ocasião anterior à fala de Talbot que
seria a sua influência; a origem real da frase, demonstra o professor,
seria o poeta romano Ovídio. No livro As Metamorfoses há um
“nec tam turpe fuit vinci quam contendisse decorum est”, que, em
tradução livre, seria “não é tão vergonhoso ser derrotado como é honroso
ter lutado”. Embora o verso de Ovídio se dê após uma partida de
pancrácio (luta grega clássica) entre o deus Acheloo e o herói Hércules,
ou seja, se situe em um contexto próximo ao olímpico, já aqui podemos
ver um deslocamento em relação aos ideais que expomos anteriormente:
onde a invencibilidade do kudos? Mas para avaliar esse ponto seria preciso um estudo mais aprofundado.
Levando em consideração que Coubertin
prestava tributo à Talbot, analisemos também o que disse o pastor e que
teria inspirado o barão: “(…) a lição da real Olímpia: que os Jogos em
si são um prêmio maior que a corrida e o prêmio. São Paulo nos conta
como é insignificante o prêmio. O nosso prêmio não é corruptível, mas
incorruptível, e, não obstante só um homem possa vestir os louros, todos
podem compartilhar igual alegria na disputa. Todo encorajamento, assim,
seja dado aos estimulantes — e, posso também dizer, salvadores de almas
— que se interessam pelo ativo e justo e limpo esporte atlético” (a
fala completa está no texto biográfico “Ethelbert Talbot: His Life and Place in Olympic History”,
do historiador Ture Widlund). Young afirma que Talbot distorce São
Paulo nesse ponto; de toda maneira, notemos a distinção de valores: em
lugar da divinização, a salvação de almas; imortalidade, ainda, mas,
como veremos, não por identidade com o transcendente, mas pela
demonstração de virtude.
Nesse contexto de pensamento, qual é então o
atleta esperado? Uma perspectiva disso é dada por um artigo publicado
ao fim deste julho pela revista New Yorker. “Doping and Olympic Crisis of Idealism”,
da jornalista Louisa Thomas,cita um juramento escrito pelo fundador,
para ser lido pelos esportistas, em 1920, na Antuérpia, Bélgica: “Nós
juramos que tomamos parte dos Jogos Olímpicos como competidores leais,
observando as regras que governam os Jogos e ansiosos para exibir um
espírito de cavalaria, pela honra dos nossos países e pela glória do
esporte”. Ela comenta que o seu objetivo “era reviver um mundo melhor,
mais nobre, onde se perseguia a excelência por si própria”.A referência à
cavalaria acena à autoimagem da nobreza europeia; o teor aristocrático
se efetivava na exigência de uma prática desinteressada; o atleta devia
ser um amador, não um profissional. Sua atuação devida a um princípio
(“uma questão da alma”, como disse, ecoando Talbot, um membro do Comitê
Olímpico Internacional), não ao ganho material.
Novamente podemos retornar à Nietzsche,
menos para defender seu ponto de vista na questão do que para sublinhar a
ruptura entre as visões de mundo de um momento a outro. O ter a alma salva em vez do fazer-se deus pode ser entendido como a ascensão da negação da vida presente sobre a sua afirmação. Na Genealogia da Moral, ele escreve: “Hibris é a nossa atitude para com nós mesmos,
pois fazemos conosco experimentos que não nos permitiríamos fazer com
nenhum animal, e alegres e curiosos viviseccionamos nossa alma: que nos
importa ainda a ‘salvação’ da alma!”. Sobre a isenção do esforço, o que
lá seria aristocrático soa a Nietzsche o seu oposto: “É somente com um declínio
dos juízos de valor aristocráticos que essa oposição ‘egoísta’ e
‘não-egoísta’ se impõe mais e mais à consciência humana (…) na Europa de
hoje, o preconceito que vê equivalência entre ‘moral’, ‘não-egoísta’ e ‘désinteréssé’ já predomina com a violência de uma ideia fixa ou doença do cérebro”. Algo fundamental, parece, foi transformado.
E o que se estabeleceu então, conforme se
aproximavam os nossos dias, foi transformado a seu turno. Louisa Thomas
descreve como o ideal de amadorismo foi perdendo espaço, processo que se
evidencia pela construção de um dogma: a inaceitabilidade das drogas de
aperfeiçoamento de performance. O doping, antes, era menos ainda que um
problema menor, sendo inclusive o objeto de políticas públicas. Em
1962, o Comitê Olímpico Internacional começou a desenvolver recursos
para coibir essa prática (inclusive uma lista de substâncias banidas) e
se deu em 1988 o primeiro grande escândalo nesse sentido, resultando na
punição do velocista Ben Johnson. Ali, o que emergiu foi a figura com
que nos defrontamos atualmente: o atleta como profissional.
Com efeito, foi em 1988, na cidade de
Seoul, na Coréia do Sul, que as Olimpíadas (de verão) pela primeira vez
aceitaram a participação de profissionais. O dado é de Thomas; ela
também afirma que “o que realmente mudou as coisas, é claro, foi a
introdução da televisão, e as fantásticas quantias de dinheiro que
inundaram os Jogos, fluindo ao redor dos atletas, mas não para eles — e o
desejo do público de ver os melhores atletas, os dream teams, competir”. O sociólogo Pierre Bourdieu, em “Os Jogos Olímpicos”, publicado no livro Sobre a Televisão,
ressalta precisamente esse aspecto: “O que entendemos quando falamos
dos Jogos Olímpicos? O referencial aparente é a manifestação ‘real’,
isto é, um espetáculo propriamente esportivo, confronto de atletas
vindos de todo o universo que se realiza sob o signo de ideais
universalistas, e um ritual, com forte coloração nacional, senão
nacionalista (…). O referencial oculto é o conjunto das representações
desse espetáculo filmado e divulgado pelas televisões (…)”.
“Os Jogos Olímpicos” é um plano de pesquisa
que evidencia as estruturas comerciais e midiáticas por trás das
Olimpíadas tendo em vista “um domínio coletivo desses mecanismos”, de
maneira a “favorecer assim a expansão das potencialidades do
universalismo, hoje ameaçadas”. O atleta, nessas estruturas, é uma peça:
“(…) no jogo esportivo, o campeão, corredor de cem metros ou atleta do
declato, é apenas o sujeito aparente de um espetáculo que é produzido de
certa maneira duas vezes: uma primeira vez por todo um conjunto de
agentes, atletas, treinadores, médicos, organizadores, juízes,
cronometristas, encenadores de todo o cerimonial, que concorrem para o
bom transcurso da competição esportiva no estádio; uma segunda vez por
todos aqueles que produzem a reprodução em imagens e em discursos desse
espetáculo, no mais das vezes sob a pressão da concorrência e de todo o
sistema das pressões exercidas sobre eles pela rede de relações
objetivas na qual estão inseridos”.
Seria interessante estudar o quanto os
períodos anteriores, nessa nossa construção retórica, se moldam na mesma
fôrma exibida por Bourdieu. Por exemplo, o quanto kleos e timé
são versões anteriores dessa produção de imagens e discursos. Mas isso
seria tema para outro artigo. Vamos destacar somente que a visão da
agência do atleta chega nesse ponto a um grau mínimo: não é mais um
aspirante à deidade nem tem os pés na antessala do paraíso que a virtude
garante; é o mecanismo central e substituível no interior de uma
máquina. Em tal contexto, uma das tarefas propostas por Bourdieu é
“analisar os diferentes efeitos da intensificação da competição entre as
nações que a televisão produziu através da planetarização do espetáculo
olímpico, como o aparecimento de uma política esportiva dos Estados
orientada para os sucessos internacionais, a exploração simbólica e
econômica das vitórias e a industrialização da produção esportiva que
implica o recurso ao doping e a formas autoritárias de treinamento”.
Há um elemento provocativo nesse último
trecho: ao mesmo tempo que o profissionalismo, ao ascender, estabeleceu o
doping como seu crime principal, esse mesmo profissionalismo, dados os
seus efeitos internacionais, econômicos, politiqueiros, implica o doping. O caso, referido pela jornalista da New Yorker,
da ameaça de banimento de todos os atletas russos neste 2016, pelo uso
sistemático, encoberto pelo governo, de drogas que permitem melhores
atuações, aparece então, para além dos ideais existentes só em
discursos, como o produto de um estado de coisas. É com esse estado de
coisas, penso, que nos identificamos; não com o que ele diz de si, não
com a sua superfície, mas com o que profundamente diz a respeito do
corpo e do trabalho.
O Atleta-Corporativo, o Sujeito Administrável
O conceito de trabalho parece estar presente, desde a origem, na palavra atleta. Segundo David J. Lunt, athla
significava aos gregos antigos tanto o esforço competitivo quanto os
prêmios das competições. Diz o pesquisador: “Os athla ou ‘trabalhos’ de
Hércules o caracterizavam como um ‘atleta’ que se esforçou por seu
‘prêmio’ — neste caso, o ‘prêmio’ da imortalidade. Dessa forma, Hércules
o atleta se esforçou para completar seus trabalhos, como eliminar o
leão de Nemeia, limpar os estábulos de Áugias e colher as maçãs do
Jardim das Hespérides”. Nossos doze ou bem mais trabalhos cotidianos são
muito divergentes dos de Hércules. Na mesma medida em que se
transformou a concepção de trabalho, mudou a concepção de atleta.
Proponho, como é visível, que isso se dá por uma ligação subterrânea
entre as duas noções. O atleta e o trabalhador, na forma como os vemos e
nos vemos, são objetos de gestão. Somos coisas a administrar.
Um exemplo. A revista piauí publicou em julho a reportagem “A Pit Bull”,
sobre as nadadoras de maratona Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto,
escrita pela jornalista Luiza Miguel.A imagem de atleta que transparece é
a do eixo a que convergem especialidades. O resultado esportivo é o
efeito de saberes técnicos não-esportivos. Medicina, comunicação,
tecnologia, cujos poderes sobre a sociedade atual são tremendos, são
alguns desses saberes. Os metabolismos de Cunha e Okimoto são definidos
pelos profissionais que lhes prescrevem a absorção nutricional devida;
os movimentos de Cunha na água são filmados, analisados e corrigidos
ponto a ponto. O corpo administrável é algo que vem sendo construído há
longo tempo. O professor de história da arte Jonathan Crary, em Técnicas do Observador,
expõe isso: “O grande logro da fisiologia europeia na primeira metade
do século XIX foi uma investigação abrangente de um território até então
semidesconhecido, um inventário do corpo. Tratava-se de um conhecimento
que seria a base para formar um indivíduo adequado às exigências
produtivas da modernidade econômica e às tecnologias emergentes de
controle e sujeição”.
A disciplina relacionada ao esporte e ao
trabalho é um local onde é flagrante a identidade entre o que se fala
sobre ambos. No perfil da piauí, lemos, sobre Cunha: “’Depois
do almoço, retornava à piscina e treinava mais algumas horas.’ Só
folgava aos domingos. Não lhe sobrava tempo para ser adolescente”.
Comparem com este trecho de outra fonte: “Steven Wanner é um altamente
respeitável sócio de 37 anos da Ernst & Young, casado e com quatro
filhos. Há um ano, quando o conhecemos, ele trabalhava de 12 a 14 horas
por dia, se sentia perpetuamente exausto e lhe era difícil se engajar na
família, o que o deixava culpado e insatisfeito. Ele dormia mal, não
tinha tempo para exercício, raramente comia refeições saudáveis, em vez
disso petiscava na correria ou trabalhando em sua mesa”. A diferença de
“cuidados com a saúde” me parece superficial: a identidade entre essas
duas posturas está na sua dedicação estrita, full time, ao serviço.
Este trecho é extraído de “Manage Your Energy, not Your Time”, dos empresários Tony Schwartz e Catherine McCarthy; em “The Making of a Corporate Athlete”,
de Schwartz e Jim Loehr, ideias semelhantes são apresentadas. O que os
autores defendem é que Steven Wanner sofre não por algum problema nas
condições do seu emprego, porém por uma deficiência de gestão. É por ele
não se administrar com eficácia, que entra em dificuldades. “O problema
central em trabalhar por longas horas é que o tempo é um recurso
finito. A energia é outra história. Definida na física como a capacidade
de trabalho, a energia vem de quatro fontes principais: o corpo, as
emoções, a mente e o espírito. Em cada, a energia pode ser
sistematicamente expandida e regularmente renovada pelo estabelecimento
de rituais específicos — comportamentos intencionalmente praticados e
precisamente agendados, com a meta de fazê-los inconscientes e
automáticos o mais rápido possível”. Todos os núcleos da experiência
humana são assets do indivíduo.
Sintomático para nós, os autores chegaram à
sua teoria por meio do esporte: “Nossa abordagem tem suas raízes nas
duas décadas em que Jim Loehr e seus colegas trabalharam com atletas de
nível mundial. Há muitos anos atrás, nós dois [Schwartz e Loehr]
começamos a desenvolver uma versão mais abrangente dessas técnicas, para
executivos que confrontavam demandas nos seus campos de trabalho que
não tinham precedentes. Com efeito, nós chegamos à conclusão que esses
executivos eram ‘atletas corporativos’. Se devem performar em alto nível
no longo prazo, defendemos que devem treinar no mesmo modo sistemático e
multicamada que os atletas de nível mundial fazem”. O que se diz aos
altos executivos, é claro, também acaba se aplicando aos das divisões
hierárquicas inferiores (ou das divisões “horizontais”, como se
dissimula hoje).
É inegável, portanto, que entre esses
ambientes simbólicos existe um intercâmbio de valores e um reforço
mútuo. No limite, é possível dizer que o vórtice onde se tocam esporte,
trabalho, e, subjacente a ambos, ética, é na ideia de uma sociedade de
manutenção da exaustão. Em que o que não se põe em questão é somente a
própria exaustão e seus motores primeiros. Muitos são os diagnósticos
nesse sentido. “Exaustos-e-correndo-e-dopados”, da jornalista Eliane Brum, um ensaio que usa o conceito de sociedade do cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, é um deles. Um outro é “How Exhaustion Became a Status Symbol”, resenha do livro Exhaustion: A History, feita pela escritora Hannah Rosefield à New Republic.
Ela diz que, em nossa época, “afirmar que você está exausto é comunicar
que você é importante, requisitado e bem-sucedido”. Nós assistimos às
Olimpíadas para ver o jogo dessa teoria de vida? Espetacularizado, o
jogo de um corpo de um sujeito submetido aos ritmos corporativos e
científico-aplicados. Espetacularizado, o jogo de um indivíduo que se
leva à exaustão — não por si, não por sua alma — porém pelo trabalho.
Duanne Ribeiro é jornalista, mestrando em ciência da informação e graduado em filosofia, com especialização em gestão cultural.
Fonte: Revista Cult online

 orcid.org/0000-0002-3614-6314
orcid.org/0000-0002-3614-6314